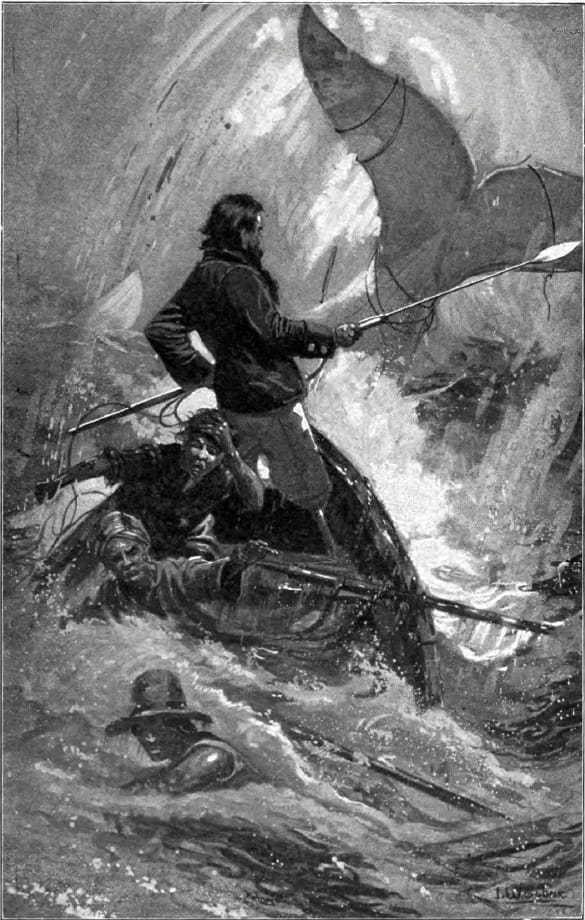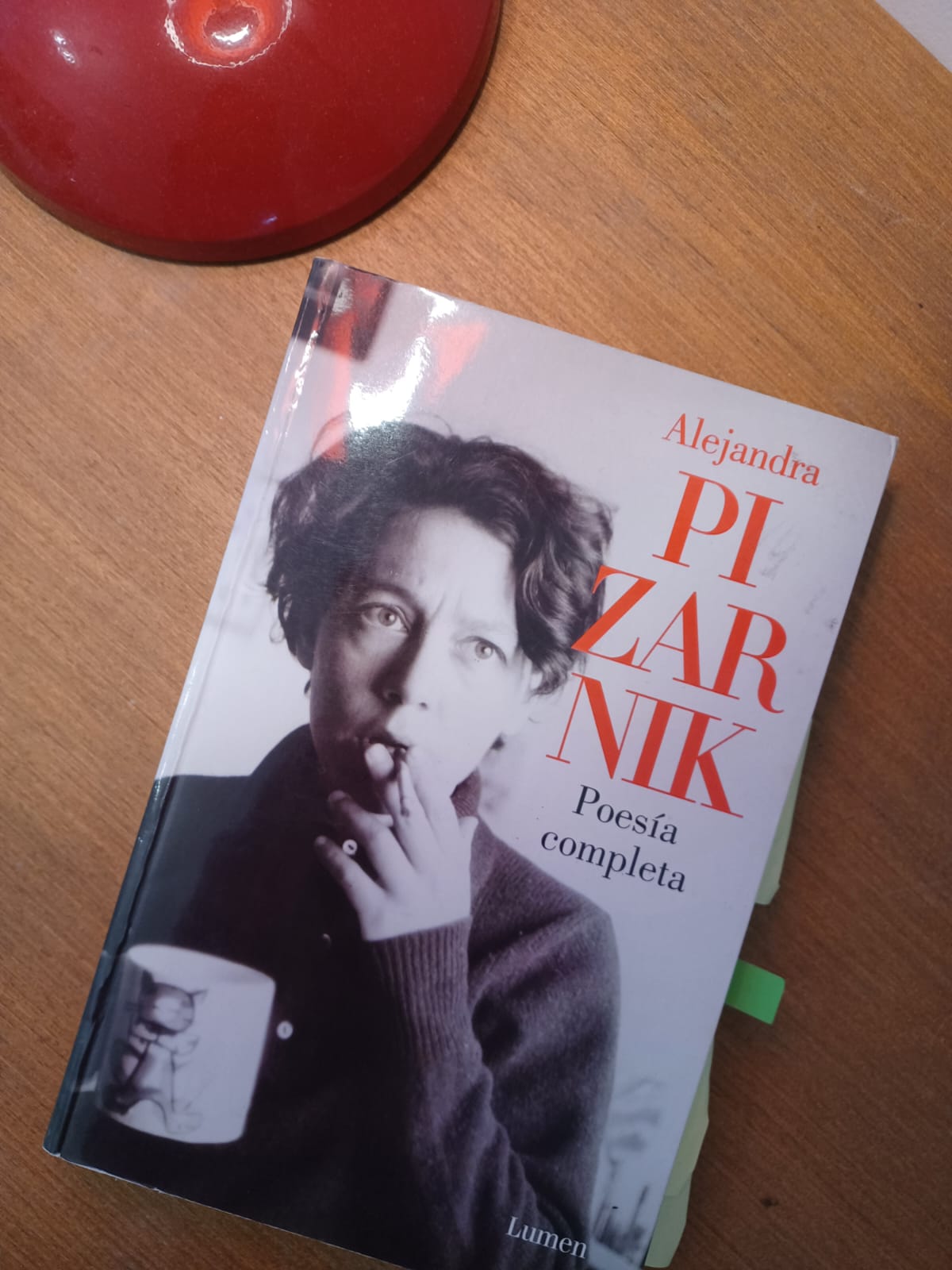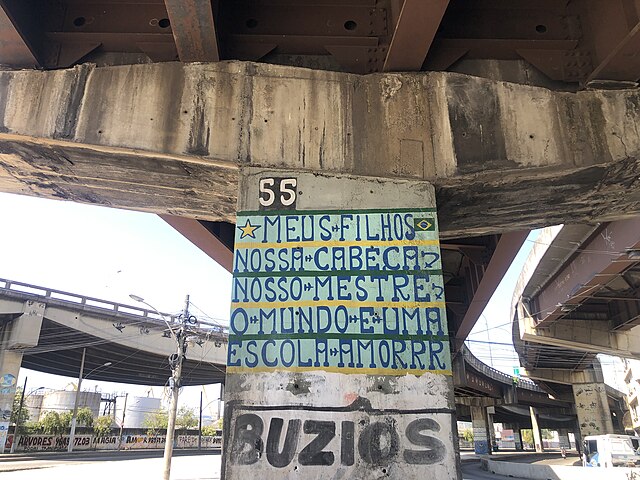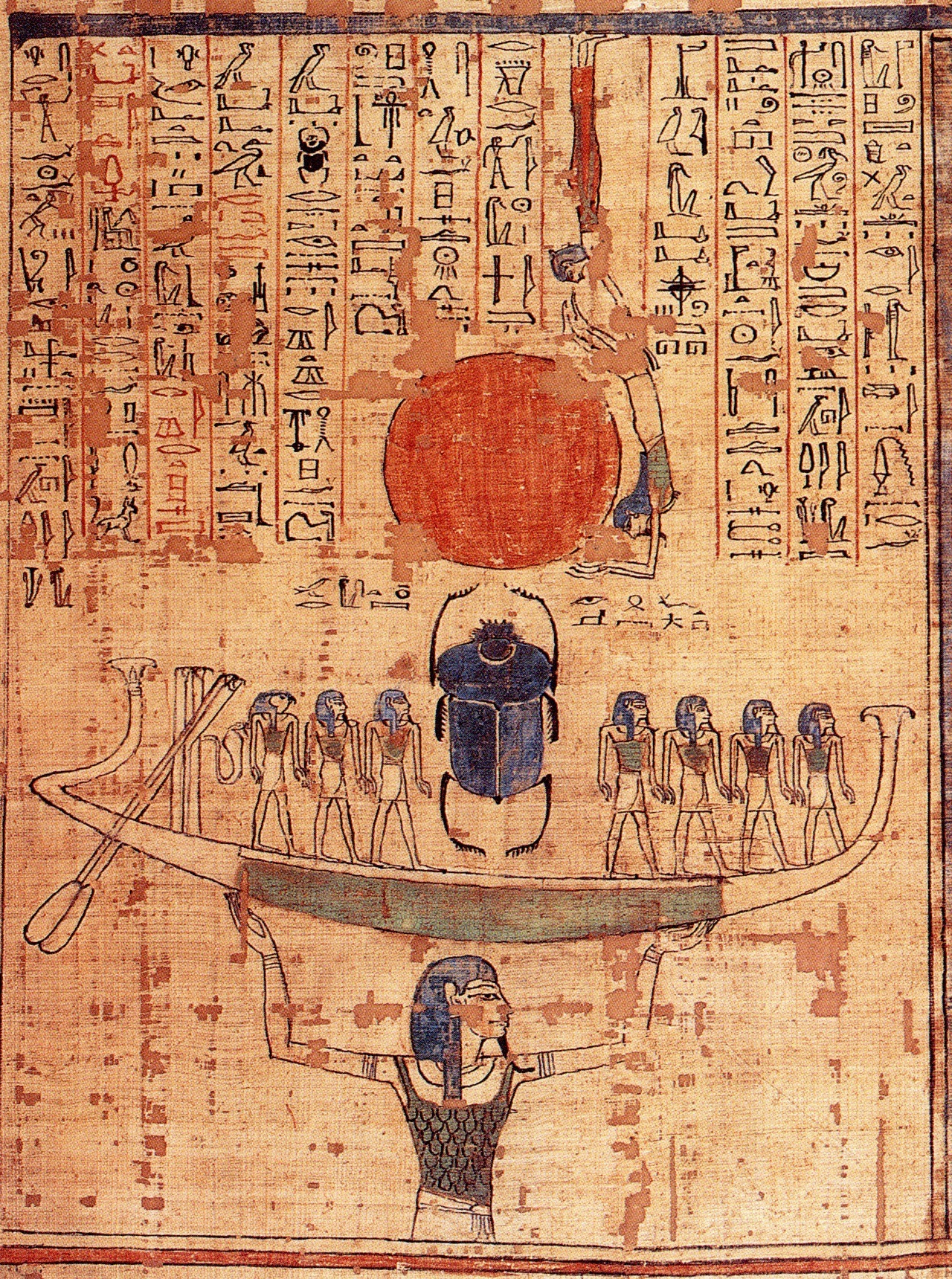Tradução de Paloma Roriz e Sofia Karam | Revisão de Marcelo Jacques de MoraesUm outro – se é um outro, é um outro corpo. Não me junto a ele, ele permanece à distância. Não o observo, não é um objeto. Não o imito, não é uma imagem. O outro corpo se rejoga no meu. Ele o atravessa, ele o mobiliza ou o agita. Ele lhe empresta ou lhe dá seu passo.
É por meio do olhar para um dançarino ou uma dançarina que, mais de uma vez, ilustramos o que antigamente se chamava de empatia ou de intropatia: a reprodução do outro em si – a repercussão, a ressonância do outro.
O outro, acolá, próximo em sua distância, esticado, dobrado, desdobrado, desalinhado, repercute em minhas juntas. Não o percebo propriamente nem pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pelo toque. Não percebo, ressoo. Aqui estou curvado com sua curva, inclinado com seu ângulo, lançado com seu impulso. Sua dança começou em meu lugar. Ele ou ela me deslocaram, quase me substituíram.
Dentre as práticas que mal ou bem reunimos na categoria da arte ou das artes, a maioria parece, antes de tudo, nos enviar mensagens: imagens, ritmos ou esquemas, timbres, volumes, grãos, às vezes até palavras, ou ainda sabores e perfumes. Elas se fazem sentir e parece que temos sentidos para isso, sentidos apropriados.
Mas a dança parece começar antes mesmo de ser sensível, ou muito antes de sermos dotados de órgãos sensíveis. Ela parece começar antes da sensação, antes do sentido em geral, em qualquer sentido que se queira dar a essa palavra.
Ela começa insensivelmente, e forma-se a suspeita de que talvez seja impossível decidir onde e quando de fato ela terá começado.
O que, do outro, ressoa em minhas juntas, o que, do outro, vem esticar meus tendões à minha revelia, o que dá molejo aos meus ossos, ao meu ventre, à minha laringe, e que se insinua até nas aderências do meu crânio – de onde isso começou a se dobrar e a atuar no outro, nele, nela, ali?
Necessariamente de mais um outro, de um ainda mais outro em si mesmo, de uma ainda mais outra no fundo de si mesma. De outro modo mesmo(a). E por essa razão, ainda menos recebido como uma mensagem. Mas antes surpreendido numa comoção, como uma câimbra ou uma crispação – a menos que isso não tenha sido uma distensão, uma folga, uma remoção.
Ainda sem sentido, sem sentimento: mas, insensivelmente, um corpo se desprende de si mesmo. Ele se desfaz de sua própria presença, se decompõe, se desarticula. Um outro o articula de outro modo, faz com que fale uma outra língua, uma língua alterada até remontar para trás de toda linguagem. Ele não sabe nada do que lhe acontece: isso lhe chega de dentro como se fosse do mais afastado dos foras.
Insensivelmente acontece a esse corpo de não mais fazer corpo consigo. Ele ganha molejo. Toma distância. Começa a se pensar. Ele se dança, ele é dançado por um outro.
Como isso começa, o corpo precisa ignorar. É o outro, é esse corpo que não é o seu, que não se pertence e que não se mantém no lugar pois um outro ainda, incansavelmente, vem em seu lugar.
Ele não se mantém, mas é o que não pode ser mantido que se trata de aguentar. Deve-se manter distância do outro a si, o corpo a corpo. É preciso aguentar firme esse começo imprevisível.
Ignorando a arte da dança, imaginamos o seu nascimento.
Com os olhos fechados, as orelhas tapadas, as narinas apertadas exceto pelo fio de ar necessário e sem cheiro, a boca cerrada e todo o corpo contraído sobre si mesmo, de cócoras enrolado no chão, abraçando os ombros com os braços e sem outro contato a não ser a estreita faixa de espaço que o suporta, o corpo recolhido pesa e se afunda quase diretamente sobre a espessura em relação à qual ele fica, no entanto, apenas tangente: já separado por ser um corpo e não um amontoado nem uma massa.
Corpo, cordão medular curvado em torno de um vazio, embrião dobrado em torno de nada, enrolado, se desenrolando.
Como uma criança dentro de um ventre, e, no entanto, nem criança nem dentro de um ventre. E apesar de tudo, um nascimento: uma dança do nascimento.
Já enlevado mas não de pé, já sublevado deitado ao rés do chão. Sem qualquer elevação, mas numa flutuação ou como um descolamento. Descolando-se do que o mantém grave, agarrando-se à própria gravidade por esse descolamento, colocando todo o seu peso, toda a sua pesadez, nessa maneira de estar na terra sem fazer corpo com a substância. Sem raiz e até sem laço, corpo tão distinto quanto um corpo astral, meteoro estendido no lugar.
Não um gesto. Antes uma gestação. Não um gesto a fazer nem uma atitude a tomar: antes a tomada desse corpo por um pensamento inquieto de si, preocupado em concebê-lo e analisá-lo.
Em que lugar iremos dispô-lo, e de que substância será o chão? O piso de um salão de baile ou de um palco, à maneira ocidental, as ripas ou as esteiras de um espaço cerimonial, à oriental, ou ainda a terra batida de uma área à africana, para uma iniciação às máscaras? São os múltiplos lugares de nascimento da dança, e é provável que não haja uma única dança original, mas sempre já uma ou outra, uma variedade de passos como uma variedade de línguas.
Sempre, entretanto, e sob todos os espaços, há para acabar, ou para começar, uma terra batida: uma área já pisada, prensada, nivelada, uma extensão onde não se semeia, nem se mora, mas somente estendida, e esticada também como uma pele de tambor, como o couro esfolado de um grande animal que se terá raspado, batido, curtido, espancado para esticá-lo e amaciá-lo até fazê-lo dócil à batida dos dançarinos. Da dança o chão já mantém a mola tensionada: chão batido, ritmado, chão pisado e surrado, chão da passagem e da poeira como uma estrada que seria encerrada em si, a partida na chegada, como um caminho que leva a parte alguma e a toda parte, um caminho que leva apenas ao seu caminhamento, um universo voltado por todos os lados para sua própria expansão.
Espécie de cosmogonia: terra batida até o chão que a fez terra, terra feita terrosa, não terrena, e território, não domínio, território esticado, exposto, extravasado: espaço a explorar e marcar, a recortar, cortar, a curvar e distender, a dilatar e comprimir.
Nada aconteceu, e, no entanto, alguma coisa já acontece, desde que esse corpo é corpo dobrado, face sobre a superfície elementar de altitude nula: com a altura de sua postura reduzida a nada, corpo que nunca, ainda, ficou de pé. Ele permanece rente ao chão ao mesmo tempo que se desprende dele, como uma onda no mar, como a espuma na crista da onda, como uma criança disposta a sair de uma mãe, como o ar sobre a terra.
Alguma coisa já estremeceu apenas com o redobrar desse corpo sobre si. Pois o que é dobrado não é uma organização, não é uma articulação de membros e de usos: o que é dobrado é uma nervura fina, uma delicada rede de fios e de fluxos. É uma tela dobrada, plissada, percorrida por pulsões e palpitações em sua própria dobradura, penetrada pelas pressões de seu próprio peso que ela apoia sobre si, ou melhor, que ela apoia ali mesmo, no lugar, não sendo, aliás, ela própria em nada distinta desse lugar: não sendo, para concluir, nada mais que o lugar que se distingue de si, que se separa e se desloca em si mesmo, o corpo desdobrado multiplicado.
Só uma sublevação in loco do lugar, um descolamento infinitesimal, mas ainda assim a derivação, a separação e por meio dela o lançamento ou o arremesso em direção a extremidades próximas e distantes, distantemente próximas.
Assim a dobra e o levantar-se do homem, seu levantar uma manhã na grande fenda da África: nem ferramenta nem discurso, mas diante do corpo de um morto um balanço ali mesmo dos outros acocorados ao redor dele, como para fugir da sua fuga ou, ao contrário, para acompanhá-la, um alongamento de todos os tendões e dos braços levantados, puxando até os calcanhares.
Imagino um dançarino – sim, eu me lembro desse espetáculo imemorial – antes de tudo sublevado pela morte diante de si: ao último espasmo de um animal, humano ou não humano, inumano, respondendo por um sobressalto, pelo ventre contraído, a cabeça desalinhada, colocando em movimento a insensibilidade de súbito sentida do morto.
Ou então movido por um nascimento – é apenas uma questão de nuance –, por um recém-nascido gritando, crispado: mas sempre um abalo da separação.
Deiscência ou descolamento do um com o outro, do ar com a terra e do corpo com o corpo: exatamente o que o dobra e desdobra, o que o junta e disjunta.
Aquilo que o separa do que foi a terra e do que foi um deus.
Corpo possuído pela separação: eis a alma e eis a dança, o transe e a cadência de um afastamento.
O afastamento de uma presença: uma presença que se apresentaria afastada de si mesma. Espaço, e espasmo.
O que acontece nessa cadência, o que começou a acontecer e que deve sempre acontecer, sempre permanecer irrealizado, assim se realizando, o que se forma no movido da separação, no tremido do colocar um fora do outro, é o ritmo da distensão, sua dupla figura e seu duplo aspecto: descarga e repouso da tensão e da espera.
Uma atenção sem intenção.
Isso deflagra e distende. Ao deflagrar, isso recarrega instantaneamente a tensão, acrescentando impulso ao impulso, ao mesmo tempo que se derrama como um líquido, se espalha em equilíbrio, numa longa equivalência que vibra de uma extremidade a outra de si mesma. O distendido toma todo o seu lugar estendido, partes extra partes, mas logo nele se estica novamente, se dobra e se retesa numa distensão a mais.
É a cada passo, cada vez, uma cosmogonia explosiva ou implosiva: nascimento ou morte de uma estrela ou de uma nebulosa, big bang ou big crunch, grande salto ou grande vácuo, matéria escura no ímpeto do vazio, jato de energia jorrado apenas do vinco, apenas da vilosidade de um frágil corpo delgado se apoiando – surdo, mudo, cego – sobre sua própria distensão, no sentido em que falamos da detonação de uma arma de fogo.
O tiro que parte não é o efeito da pressão que o corpo exerce (do dedo, do fígado, do pé, do puro pensamento), mas a própria pressão elevada a sua extremidade, o orgasmo que a sua descarga transporta ao mesmo para um fora muito longe e para o fundo do lugar e da massa dos músculos que entraram na dança.
Gozo, no entanto, à distância do sexo, desviado da carícia e da intimidade, ou então girando em torno mas sem nele penetrar, todo virado para fora, para você.
Para fazer um mundo, a dança também divide em si continentes que se mexem e esfregam, uns contra os outros, suas fortes placas tectônicas. À distensão da África responde ao longe o porte da Ásia, o gestuário que mantém o vazio em movimento. A mão responde ao pé, o pescoço à coxa, os cílios aos rins, a água do olhar à espuma dos lábios, as narinas que inspiram à garganta que exala, o verniz das unhas calculadas ao couro das costas arqueadas.
Em toda dança se move a membrura dessas partes de um mundo e a coreia dessa geografia agitada onde a terra de novo se separa e se lança, assim como um dia ela se
tornou planeta, bloco errático de elementos vergados e plissados juntos, montes de lama e de lava, magma escaldante, lascas deslizando umas sobre as outras, ondas elevadas escoando ao vento, cascatas e turbilhões, massas fermentadas e caldos de cultura, balé de bactérias.
Coreia da chôra, do lugar indiferenciado e não situado que faz a matéria elástica dos ritmos e figuras, de todas as separações e composições de elementos, empuxo, tração, pulsão, e direita e esquerda e alto e baixo, dentro fora, sobre sob, aberto fechado, jeté battu.
Coreia, nome de uma doença, como a paraplexia ou o remelexo, como a dança de São Vito. Desordem em sintonia com um delírio, um acesso que sobrevém: acesso ao corpo, acesso de corpo, solução da alma. Crise de coreia, grafia crítica da separação de um lugar singular.
Assim o vivente, com os olhos fechados, a boca cerrada e os ouvidos atentos apenas à balança dos equilíbrios e rupturas, inclinações, declinações, muito antes de qualquer música que não uma ressonância sobre si da pele esticada desde os dedos dos pés até a ponta dos dedos e o topo do crânio, com o nariz, a língua mergulhados no odor e sabor de um suor que o elã evapora, com o rosto absorvido na espiral de uma impulsão, ei-lo que se dança e se lança na ausência de qualquer objeto e de qualquer outro sujeito que não ele próprio, corpo comovido que é movido por seu próprio rapto.
Ele pode dançar sentado, deitado, abatido e prostrado, talvez passando entre os lábios sua língua até a axila, a face achatada contra o ombro, ou então com as palmas da mão segurando as nádegas por um imóvel avanço de si até si, assim como pode dançar desalinhado, fendido por uma passada em que o calcanhar toca a nuca e o outro pé é lançado ao vazio, até se separar de si para ser apenas retorno à agitação do mundo.
Separando-se para alcançar a si, isto é, a todo esse fora imenso que ele não cessa de dilatar tocando-o de dentro, joelho, tornozelo, cotovelo e pescoço, punho, quadril, jarrete, nuca, pélvis e rins, coluna e períneo, lombos, mandíbulas, seios, ventre e planta do pé, cada um posto em órbita separada com, entre eles, ligações e desligamentos, tendões e nervos, cartilagens, tecidos conjuntivos, canais, eclusas, limiares, passagens esquivas, de um extremo ao outro um longo rastilho escuro que, num clarão, a fagulha do movimento e a permanência da mudança acendem.
Assim, do lugar, ele salta. Salta no seu próprio lugar e ali substitui a si mesmo. Eleva-se acima de si, mas diretamente e rente a si: dali, de toda a sua altura pula em sua profundidade, sempre diretamente, sempre dobrado contra si. Contrai o ventre e se atira, com pernas e braços atados ao seu próprio peso que o leva, mas que é o peso de uma mola cuja distensão faz com que seu esqueleto de borracha pule, e até mesmo a pupila dos seus olhos.
Ele salta com um salto originário: Ur-sprung, arqui-salto, é o nome alemão, portanto metafísico, da origem tomada de modo absoluto. Sprung do Ur em si mesmo assim como fora de si: um salto faz a arché do princípio.
Do lugar, ele salta para fora do lugar: ele o abre e o afasta de si, o separa de seu aqui-embaixo ao qual novamente ele o reúne, e no qual o recoloca como um lugar doravante cadenciado, como uma respiração que palpita, que se subleva e que se esvazia.
Ele salta, sobressalta, se exalta; estremece, arreceia, se arrepia; ei-lo que freme, se agita, ferve, trepida, tripudia, tomado por abalos ou solavancos, por deslizes ou desdobramentos, por progressões, procissões e precessões; ei-lo que entra em secessão e se retira para saltar ainda melhor.
O sentido da dança é o sentido da separação num salto que abre e que transpõe ao mesmo tempo a divisão dos corpos: sentido de antes de todos os sentidos e que os encerra e depois os reabre um por um, insinuando-se entre todos, saltando ao fundo de cada um e de um a outro, entre o mesmo e a meada de um corpo singular ou de corpos plurais, fazendo de um vários e de vários uma dançaria.
O sentido da dança não é um sentido particular, ao menos se acreditamos entendê-lo considerando que existem artes da ‘vista’, outras do ‘ouvido’, e assim por diante. Seria antes, se fosse preciso falar desse modo, um sentido anterior à abertura dos sentidos: um sentido insinuado desde antes deles e em seu próprio desdobramento, ou exatamente como esse desdobramento. Um sentido revirado, dobrado e desdobrado rumo às aberturas dos sentidos. Um sentido desdobrando os sentidos, desdobrando ou desamarrando o sentido, absolutamente, a dança de antes do nascimento desse belo gesto que separa de si a esfera celular para a desenrolar e a redobrar num arco, numa corda sensitiva enroscada em torno de uma tripa nutridora. Um movimento envolvente em torno da alma, canal invaginado, e ao redor uma declosão de entradas e de saídas, ouvidos, pupilas, narinas, sensores táteis e magnéticos, em seguida, tendões, extensores e contratores, ressoadores, dançarinos.
Ele já dança, o animálculo ocupado em se desprender do bloco molecular: ele cava e ritma o seu devir. Ele não devém o que ele é, ele devém o que ele espaça, ele devém o que ele afasta e a coisa estendida que ele estica na justa medida de uma histeria graciosa cadenciada na coreostesia. Ele acena apenas em direção a essa extensão móvel, à geografia desse palco que ele atravessa e engendra no mesmo movimento, tornando-se aqui mesmo um alhures espaçoso esticado e multiplicado, tornando-se um mundo de sua ação pura, sua cena, seu dancing, o salão do seu baile, do seu balé, da sua balada. O sentido da dança é fazer, aqui mesmo, entrar na dança.
Nota de tradução
Paloma Roriz e Sofia Karam
A presente tradução resulta de uma parceria nossa surgida, inicialmente, na oficina de tradução ministrada por Marcelo Jacques de Moraes e Rodrigo Ielpo, no Núcleo de Tradução do Laboratório da Palavra (PACC) da Faculdade de Letras da UFRJ, em 2019, organizada em torno de exercícios coletivos de tradução do livro de Jean-Christophe Bailly, Le propre du langage – Voyages au pays des noms comuns (1997), com subsequente organização do projeto de sua publicação. Procurando driblar o período de suspensão das atividades imposto pela pandemia em 2020, assim como dar sequência ao trabalho em parceria já iniciado, nos propusemos a traduzir, dessa vez de forma autônoma, por meio de encontros remotos semanais, passagens do livro Allitérations: conversations sur la danse (2005), uma conversa entre Jean-Luc Nancy e Mathilde Monnier, com a participação de Claire Denis, na qual o pensamento de Nancy sobre corpo e dança surge em um diálogo com uma coreógrafa. A ideia partiu de Sofia, para quem o livro possui um estreito laço com seu próprio trabalho de escrita e sua relação com a dança. A primeira parte finalizada deste trabalho é, por ora, o trecho, aqui publicado, escrito e lido por Nancy em um espetáculo de Monnier. Agradecemos muito especialmente a Marcelo Jacques de Moraes, pela acurada leitura e revisão do texto.
- Texto do espetáculo, escrito por Jean-Luc Nancy, inicialmente intitulado “Separação da dança”. Sexta versão – 19 de maio de 2003 (o espetáculo foi apresentado em Paris, Strasbourg, Lyon, Montpellier e Toulouse). Traduzido de MONNIER, Mathilde e NANCY, jean-luc. Allitérations – Conversations sur la danse Avec la participation de Claire Denis. p.137-150.