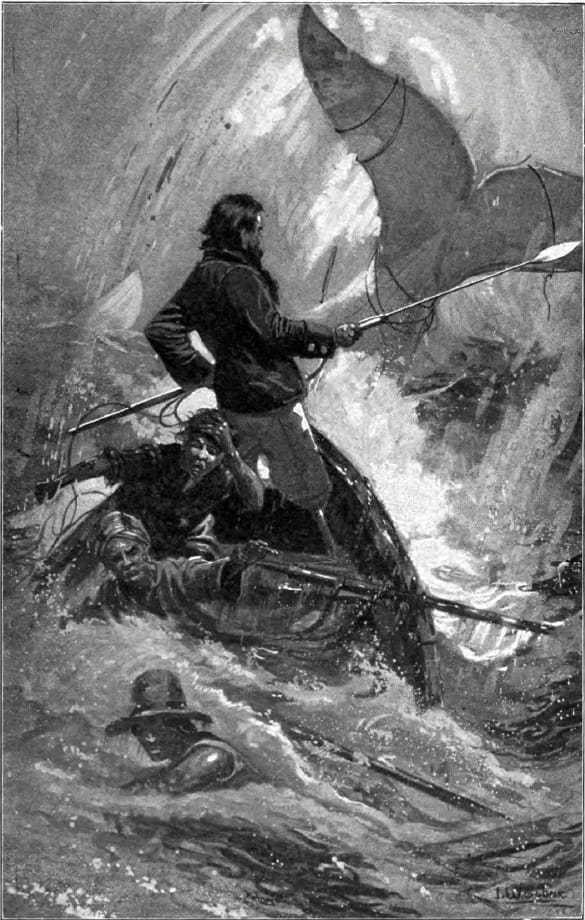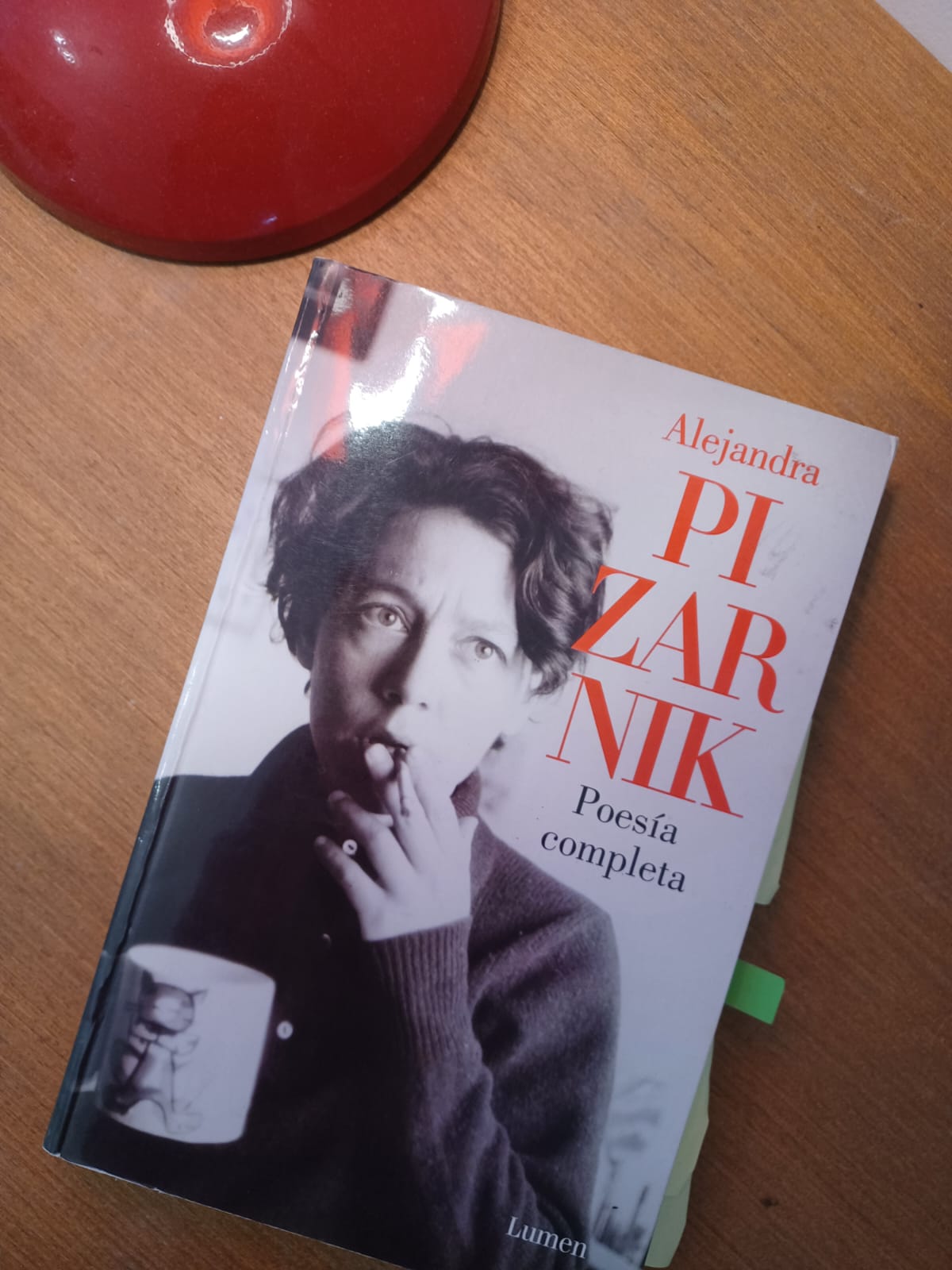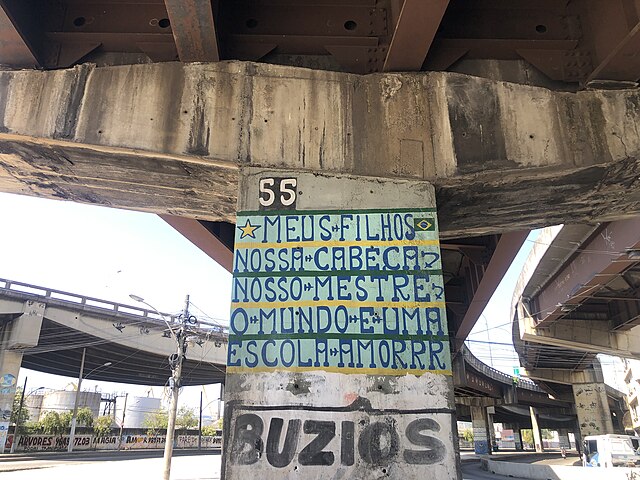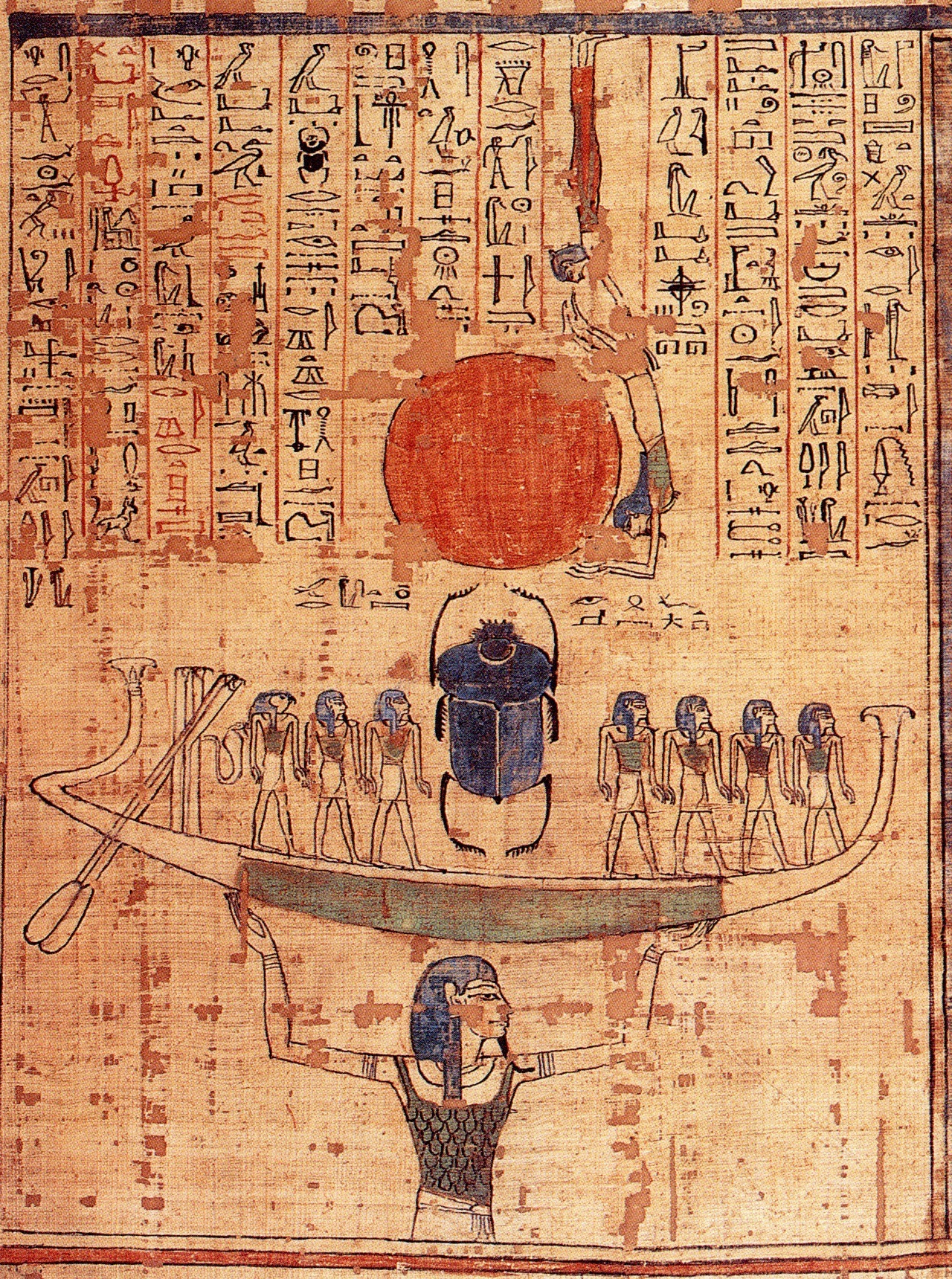Tradução de Miguel CondeNum assunto de tamanha importância para nós todos como a felicidade, deveríamos ouvir de bom grado a experiência e os experimentos de qualquer pessoa, ainda que se tratasse apenas de um jovem lavrador, de quem não se pudesse esperar ter arado a grande profundidade solo tão intratável quanto esse dos sofrimentos e prazeres humanos, ou nem tampouco ter conduzido suas pesquisas a partir de princípios particularmente esclarecidos. Mas eu, que ingeri a felicidade em forma tanto sólida quanto líquida, fervida e ao natural, das Índias Orientais e da Turquia – que conduzi meus experimentos a respeito deste fascinante assunto com a energia de uma pilha galvânica, e que tenho, para benefício geral do planeta, me inoculado, por assim dizer, com o veneno de 8 mil gotas de láudano por dia (pela mesma exata razão que um cirurgião francês recentemente se inoculou com o câncer, um inglês dez anos atrás com a peste, e um terceiro, de não sei qual nação, com a raiva), eu (admita-se) devo saber o que é a felicidade, se alguém souber. E, portanto, vou elaborar aqui uma análise da felicidade; e, para comunicá-la do modo mais interessante, vou apresentá-la, não didaticamente, mas embrulhada e envolvida na imagem de uma noite, tal como eu passava todas as noites no ano bissexto em que o láudano, embora ingerido diariamente, era para mim nada mais que o elixir do prazer. Feito isso, hei de abandonar de uma vez o assunto da felicidade, e passar a outro muito distinto – os sofrimentos do ópio.
Imagine uma casa modesta erguida num vale, 18 milhas distante de qualquer cidade – não um vale espaçoso, mas um de umas duas milhas de comprimento por três quartos de milha de largura, na média; a vantagem de tal arranjo sendo que todas famílias residentes em sua circunscrição devem formar, por assim dizer, um único domicílio, tornando-se conhecidas aos seus olhos, e de algum interesse para suas afeições. Que as montanhas sejam montanhas de verdade, de 3 mil a 4 mil pés de altura, e a casa modesta, uma casa modesta de verdade, e não (como quer um autor espirituoso) “uma choupana com carruagens na estrebaria”[1]; que ela seja (pois devo ser fiel aos fatos) uma casinha branca, envolvida por arbustos floridos, dispostos de tal maneira a desabrochar uma sucessão de flores pelas paredes e ao redor das janelas ao longo de todos os meses da primavera, verão e outono – começando, de fato, com rosas de maio, e terminando com jasmins. Que a estação, porém, não seja a primavera, nem o verão, tampouco o outono, mas o inverno em seu modo mais severo. Este é um ponto de suma importância na ciência da felicidade. E me espanto de ver as pessoas não se darem conta disso, a ponto de se rejubilarem que o inverno esteja terminando, ou, quando ainda a caminho, que provavelmente não venha a ser dos mais rigorosos. Pelo contrário, faço uma petição anual pela maior quantidade possível de neve, granizo, geadas e intempéries, de um tipo ou de outro, que os céus possam nos oferecer. Decerto ninguém ignora os prazeres divinos proporcionados no inverno por uma lareira, velas acesas às quatro da tarde, tapetes acolhedores, chá, uma bela chaleira, janelas e persianas fechadas, cortinas caindo em drapeados abundantes até o chão, enquanto o vento e a chuva uivam lá fora,
E à porta e à janela parecem chamar,
Como se a terra ao céu quisessem juntar;
Se a menor brecha, porém, não logram achar,
Tanto mais doce o repouso, no robusto abrigo do lar.
Castelo da Indolência[2]
Todos esses detalhes compõem a cena de uma noite de inverno tal como qualquer um nascido em altas latitudes certamente conhece bem. E é evidente que a maioria dessas iguarias, como acontece com os sorvetes, demandam temperaturas atmosféricas muito baixas para serem produzidas; são frutos que não podem amadurecer sem um clima tempestuoso ou inclemente de um tipo ou de outro. Quanto ao tipo específico, não sou “cheio de melindres”, como se diz, quer se trate de uma nevasca, de uma geada, ou de ventos tão fortes que (como diz Mr. ——) “você pode se apoiar neles como num poste”. Aturo de bom grado até mesmo a chuva, desde que seja das fortes; não abro mão apenas de alguma espécie do gênero, e se não a tenho, sinto-me como que mal recompensado; pois por que deveria eu pagar um preço tão alto pelo inverno, em velas e carvão, e passar por tantas privações das quais mesmo um cavalheiro não pode escapar, se não for para receber em troca um artigo de boa qualidade? Não, espero pelo meu dinheiro um inverno canadense, ou russo, desses em que cada pessoa não é mais que uma coproprietária do vento setentrional na posse dos próprios ouvidos. De fato, nesses assuntos sou um epicurista de tal monta que não consigo gozar inteiramente de uma noite de inverno se já estivermos muito depois do dia de São Tomás[3], decaindo rumo às tendências repulsivas das aparições primaveris. Não, tal noite deve estar separada por uma muralha espessa de noites escuras de qualquer sinal do retorno da luz e do brilho do sol. Das últimas semanas de outubro à Véspera de Natal, portanto, estende-se o período festivo em que a felicidade, julgo eu, entra na sala com a bandeja de chá; pois o chá, embora ridicularizado por aqueles que já nasceram com os nervos embrutecidos, ou que ficaram assim por causa do vinho, e que não são suscetíveis à influência de um estimulante tão refinado, será sempre a bebida favorita do intelectual; e, de minha parte, eu teria me juntado ao Dr. Johnson em bellum internecinum[4] contra Jonas Hanway[5] ou qualquer outro ímpio que pretendesse criticá-lo. Mas aqui, para me poupar o inconveniente de uma descrição palavrosa, vou introduzir um pintor, e dar a ele instruções para completar o quadro. Pintores não gostam de cabanas brancas, a não ser quando cobertas pelas marcas do tempo; mas como o leitor já compreendeu que se trata de uma noite de inverno, seus serviços não serão necessários a não ser para os interiores da casa.
Pinte, então, um quarto de 17 por 12 pés, e de não mais do que sete pés e meio de altura. A um cômodo assim, leitor, chamamos um tanto ambiciosamente na minha família de sala de estar; mas, tendo sido concebido para matar dois coelhos numa cajadada só, é também, e com mais propriedade, chamado de biblioteca, pois ocorre que livros são o único artigo do qual tenho um patrimônio maior que o dos meus vizinhos. Deles possuo uns cinco mil, reunidos gradualmente desde meus 18 anos. Portanto, pintor, inclua tantos quanto possível nesse quarto. Faça-o populoso de livros, e, além disso, pinte-me um bom fogo, e mobília simples e modesta, adequada à cabana despojada de um homem de letras. E perto do fogo pinte uma mesinha de chá e (sendo óbvio que, numa noite de inverno como essa, visitas não são esperadas) ponha somente duas xícaras e dois pires na bandeja; e, se souber como pintar tal coisa, simbolicamente ou como seja, pinte uma chaleira eterna – eterna a parte ante e a parte post[6] –, pois eu geralmente bebo chá das oito da noite às quatro da manhã. E como é muito desagradável fazer ou servir chá para si mesmo, pinte uma jovem mulher sentada à mesa. Pinte-a com os braços de Aurora e o sorriso de Hebe. Mas não, querida M.[7], nem de brincadeira seja-me permitido insinuar que seu poder de iluminar minha casinha se baseia num dote tão perecível como a mera beleza pessoal, ou que o encanto de sorrisos celestes esteja ao alcance de qualquer lápis mundano. Passe então, meu bom pintor, a algo mais dentro das suas possibilidades; e o próximo elemento a ser incluído devo ser eu mesmo, naturalmente – uma pintura do comedor de ópio, com seu “pequeno recipiente dourado da droga perniciosa” a seu lado na mesa. Quanto ao ópio, não faço objeção a ver uma pintura dele, embora preferisse ver o original. Pinte-o, se quiser, mas informo que nenhum recipiente “pequeno” serviria, mesmo em 1816, aos meus propósitos, algo distantes do “majestoso Pantheon”[8], e de todos farmacêuticos (mortais ou não). Não, pinte logo o recipiente real, que não era de ouro, mas de vidro, e tão parecido com um decantador de vinho quanto possível. Dentro dele, pode por um quarto de galão de láudano violáceo; isso, e um livro de Metafísica alemã posto ao lado, serão indicações suficientes da minha presença na vizinhança. Mas quanto a mim mesmo – aí faço uma objeção. Admito que, naturalmente, eu deva ocupar o primeiro plano do quadro; que sendo o herói da obra, ou (se alguém preferir) o criminoso no banco dos réus, meu corpo seja trazido à corte. Isso parece razoável; mas por que devo confessá-lo a um pintor? Ou por que confessá-lo, ponto? Caso o público (em cujo ouvido interior, e não nos de um pintor qualquer, estou sussurrando em segredo minhas confissões) tenha por acaso formado em sua imaginação uma figura agradável da aparência do comedor de ópio, caso tenha atribuído a ele, romanticamente, um aspecto elegante e um rosto bonito, por que deveria eu barbaramente despojá-lo de uma ilusão tão agradável – agradável tanto ao público, quanto para mim? Não, pinte-me, se necessário, de acordo com sua fantasia, e como a fantasia de um pintor deve transbordar de criações belas, não posso deixar de sair ganhando. E agora, leitor, já percorremos todas as dez categorias de minha condição tal como ela se apresentava em 1816-17, até meados do último ano de cujo período considero ter sido uma pessoa feliz, e os elementos de tal felicidade, me esforcei para exibi-los a você nesse esboço dos interiores da biblioteca de um homem de letras, numa casa nas montanhas, numa noite tempestuosa de inverno.
- THOMAS DE QUINCEY (1785-1859), ensaísta, crítico e escritor britânico, é o autor das “Confissões de um comedor de ópio” (“Confessions of an English Opium-Eater”, 1821), livro de memórias do qual foi extraído o trecho acima.
[1] No original, “a cottage with a double coach-house”. Citação de “The Devil’s Thoughts” (1799), poema satírico de Samuel Taylor Coleridge que criticava a hipocrisia da sociedade inglesa da época.
[2]Trecho do poema“The Castle of Indolence” (1748), do autor escocês James Thomson. No original:
And at the doors and windows seem to call,
As heav’n and earth they would together mell;
Yet the least entrance find they none at all;
Whence sweeter grows our rest secure in massy hall.
[3] Ou seja, muito depois de 29 de dezembro, dia de São Tomás de Canterbury.
[4] Guerra até a morte.
[5] Filantropo e pregador moral britânico, autor de An essay on tea (1756), no qual expunha os supostos efeitos maléficos da bebida, o que ocasionou uma acalorada polêmica com Samuel Johnson nos periódicos da época.
[6] Isso é, sem começo nem fim.
[7] Possível referência a Ann, prostituta londrina por quem De Quincey se apaixonou e com quem teve um relacionamento platônico descrito em outras partes das Confissões.
[8] Citação de “Power of Music” (1806), poema de William Wordsworth, com referência ao Pantheon de Oxford Street, em Londres, edifício projetado por James Wyatt em estilo georgiano e inaugurado em 1772. Celebrado por sua elegância e imponência, funcionou como casa de espetáculos e depois foi um bazar de artigos variados. Foi demolido em 1939 para dar lugar a um mercado da rede Marks & Spencers.